História de Empresas Brasileiras: Tem Espaço na Academia? Questionamentos Exploratórios e Conclusões Preliminares.
Autor: Luís Eduardo Carvalheira de Mendonça
|
Comentários e sugestões são bem vindos.
O
REAd – Revista Eletrônica de Administração
Escola de Administração da UFRGS / PPGA
Rua Washington Luís, 855 – Centro – Porto Alegre , RS – BRASIL
CEP 90010-460
CEP 90010-460
HISTÓRIA DE EMPRESAS BRASILEIRAS: TEM ESPAÇO NA ACADEMIA ? QUESTIONAMENTOS EXPLORATÓRIOS E CONCLUSÕES PRELIMINARES . (*)
Luís Eduardo Carvalheira de Mendonça
Palavras-chave: Teoria de Administração , ambiente empresarial , empresas brasileiras, história empresarial , aprendizagem, identidade e memória .
Introdução
O propósito deste ensaio é sugerir à academia e aos foros universitários que se dê mais espaço , ou melhor , se abra um lugar para discussões , análises e registros de histórias de organizações brasileiras. Sua intenção é de caráter exploratório e, como tal , pretende concorrer para o debate sobre o assunto . Trata-se, nesse sentido , de uma obra aberta cujos questionamentos primeiros o próprio autor os formula. Inicia-se com uma confissão do seu mal-estar em sala de aula em face do uso intenso e maciço de literatura estrangeira cheia de casos desenvolvidos em contextos de ambiente empresarial bastante diferente do nosso . A seguir , parte da metáfora de que , à semelhança das artes , somente o estudo profundo da história das empresas nacionais possibilitará o conhecimento das categorias universais da teoria de administração . Alega que a exploração da história de empresas nacionais poderá ensejar mudanças significativas no processo de aprendizagem em sala de aula e nos ambientes empresariais . Está articulado em sete tópicos : o primeiro apresenta justificativa e relevância do tema ; o segundo traça uma breve retrospectiva de estudos do gênero no país ; o terceiro faz um resumo dos cinco projetos - intitulados de Identidade e Memória – desenvolvidos pelo autor ; o quarto relata a metodologia empregada ; o quinto apresenta os resultados alcançados; o sexto sugere módulos para se esboçar um programa de história empresarial ; o último coloca dúvidas e perplexidades relativas ao campo de estudo em tela .
1 – Justificativa e Relevância da Matéria
A escolha da área de história de empresas nacionais como objeto de interesse deste ensaio decorreu de um motivo aparentemente simples e de base subjetiva , porém muito significativo para a militância de professores e de consultores de empresas que se debatem freqüentemente com o problema da escassez de relatos de casos de empreendedores e de empreendimentos de sucesso no país diante da abundância de uma vasta e bem “vendida” literatura estrangeira , em especial , norte-americana . O grave , no caso , é o descolamento e a inadequação de contexto , em diversos ângulos da dimensão ambiental econômica , social , política e cultural, de grande parte das teses defendidas em relação à realidade nacional . No âmbito da economia , por exemplo , há quase 10 anos as empresas de lá vivem uma espécie de “boom ” em forte contraste com as nossas, que vêm penando tanto pelo esforço da reestruturação produtiva empresarial como pelo do ajuste do Plano Real e da globalização . Além do mais , a natureza da intervenção do setor público dos E.U.A. difere da nossa , sempre tão ávida por tributos . Idêntico raciocínio também se aplica à mão-de-obra : entre os dois países , ela difere tanto nos aspectos quantitativos quanto nos qualitativos .
A intenção , pois , é que uma discussão sobre a história de empresas nacionais trará, sem dúvida , benefícios a muitos professores e consultores , que se vêem, com freqüência , perplexos , ao testemunhar seus alunos fundamentando as teorias estudadas com exemplos do estrangeiro . Ademais , convém registrar que a grande maioria das empresas brasileiras de grande porte está na terceira geração ou em vias de importante mudança de comando e, nesse sentido , valeria a pena recuperar e tornar públicas suas trajetórias até como um processo ético de devolução social (5).
A história empresarial brasileira dispõe de casos de sucesso que não deixam a desejar a nenhum caso de outro país . E, o mais importante , tais casos indicam que empresas souberam e sabem vencer a partir de traços culturais autóctones . Na verdade , precisa-se debruçar sobre eles e narrá-los com o olhar técnico , administrativo , gerencial e empresarial adequados e atuais , extraindo as lições para outras empresas , para as pesquisas acadêmicas e para a sociedade brasileira em geral de hoje e do futuro . Os Projetos de Identidade e Memória , desenvolvidos pelo autor e expostos adiante , reforçam esse ponto de vista .
2 – Breve Retrospectiva dos Estudos do Gênero no País
Inicialmente, deve-se assinalar que, salvo uma ou outra exceção, como no caso do texto biográfico de Caldeira (1995) sobre Mauá, os estudos de história, estrito senso, não dispensam ao tema a necessária atenção. Mesmo autores contemporâneos interpretam a história enfatizando os aspectos culturais, a dimensão social ou até o corte político, mas, invariavelmente, fecham os olhos à contribuição das organizações tanto do setor publico como as do setor privado (6). Estudos como os de Nogueira Filho (1969), com sua interessantíssima obra a respeito da autogestão e as tentativas de sua prática no Brasil são, por assim dizer, exceções para justificar a regra. Os trabalhos dos padres Fernando Ávila, no Rio de Janeiro, e Charbonneau, em São Paulo, de alguma forma situam os esforços das empresas em assimilar a doutrina cristã e, nesse sentido, revelam uma perspectiva histórica de análise.
Uma produção sistemática, com objetivos acadêmicos conseqüentes de aprendizagem, tem sido levado a efeito por Aquino (1987), por meio do seu bem estruturado Programa de História Empresarial Vivida e que, nesse sentido, merece destaque. Cabe mencionar, também, o trabalho de Agrícola Betlhem (1989) versando sobre gerência à brasileira e o de Marcos Cobra (1991) expondo casos brasileiros de sucesso na área de “marketing”.
Merece menção, da mesma forma, a contribuição de Ricardo Semler (1995). O então iconoclasta e jovem empresário “abriu as veias” da cultura empresarial brasileira e, na oportunidade, revelou um retrato relativamente fiel do universo das empresas nacionais. Faltou-lhe, todavia, fôlego, por isso as “Idéias-Semler” foram parar em lugar nenhum (7). Como iniciativa isolada não se deve omitir ainda a produção do Grupo empresarial Odebrecht (1998), que promove e divulga uma muito interessante discussão da aplicabilidade da filosofia do seu fundador nas empresas do grupo.
Uma visão panorâmica do pensamento e da obra de alguns líderes empresariais nacionais está, também, presente na bem acabada graficamente coleção Pense Grande (1995), editada em quatro volumes sob o patrocínio do extinto Banco Multiplic.
Enfim, dois livros mais recentes dão uma importante contribuição à dissecação da história de empresas nacionais. Em primeiro lugar, o trabalho intitulado O Estilo Brasileiro de Administrar, voltado à discussão da mudança pela via da gestão participativa, da Método Engenharia de São Paulo e, em segundo, o texto denominado Raízes do Sucesso Empresarial, que explora os fatores-chave de sucesso das empresas Metal-Leve, Weg e Belgo-Mineira. Ambos os livros resultaram de investigação de profissionais da Fundação Dom Cabral (8). No item seguinte, um breve resumo dos trabalhos produzidos pelo autor.
3 – Notícia dos Trabalhos Realizados pelo Autor
Todos os trabalhos aqui mencionados foram apresentados dentro de uma moldura de uma ação de consultoria denominada de Projeto de Identidade e Memória (9). A primeira produção deu-se há exatamente 14 anos. Na ocasião, fez-se uma proposta à empresa pública responsável pela operação e gestão dos transportes coletivos do município do Recife de discutir a evolução dos transportes coletivos na cidade. Ao final, produziu-se um livro e o trabalho foi publicado nas comemorações dos 30 anos da empresa referida. A seguir, em 1987, o autor participou da edição de um livro concernente à história de um empreendedor de uma fábrica de tecidos de Pernambuco, o qual, lá pelos anos 10 do início do século, pregara e adotara, no seu estabelecimento, idéias que posteriormente foram chamadas de “solidarismo cristão”, conforme salienta Azevedo (1986).
Mais tarde, em 1998, o autor coordenou a edição de outro livro relativo à história de um grupo empresarial local, em cujo conteúdo se discutem as razões do sucesso num intervalo de 40 anos. Mais recentemente, dois outros Projetos de Identidade e Memória foram executados na área da saúde: o primeiro a respeito de uma agremiação corporativa de médicos, uma ONG de sessenta anos e outro sobre um hospital-escola da região, fundado nos anos 60 como instituição filantrópica, que hoje presta serviços médicos e desfruta de notável prestígio acadêmico local, nacional e internacional.
Nos próximos itens, uma visão sintética do roteiro adotado e dos resultados obtidos.
4 – Visão Sumária da Metodologia Empregada
Os Projetos seguiram, em essência, a metodologia abaixo.
I_-Fase de levantamento – (âmbito interno) entrevistas com fundadores, empregados dos diversos níveis da empresa, com clientes e fornecedores; identificação dos artefatos e histórias referidas pelos diversos atores acima sobre a trajetória da organização; levantamento e classificação das diversas políticas da empresa ao lado de documentos institucionais da sua criação e institucionalização; (ambiente externo) rastreamento e mapeamento das tendências do ambiente externo no que diz respeito às variáveis usualmente utilizadas em cenários; levantamento na imprensa sobre a empresa e seu nicho de mercado bem como sobre o comportamento de seus concorrentes, fornecedores e clientes. Trata-se de um trabalho de reconstituição de quadro de uma “cena já ocorrida”.
II- Fase de interpretação - análise e interpretação da trajetória da empresa reconstituindo sua evolução/involução, discutindo o aproveitamento das oportunidades /ameaças em contraposição aos pontos fortes/fracos; análise da cultura predominante na organização, do papel do fundador/empreendedor, quando era o caso, e discussão das políticas implementadas tanto no ambiente interno como no externo.
III- Fase de redação - apresentação de um documento narrativo da trajetória da organização contemplando necessariamente o contexto histórico, a dimensão cultural e ideológica (10) e a dimensão estratégica em perspectiva.
5 – Resultados Alcançados
A imersão no ambiente interno da empresa em face da análise e compreensão do seu ambiente, tarefa e negócio, dentro de uma abordagem de base sistêmica, atravessada pelas dimensões histórica, estratégica e cultural realizadas nesses projetos, permitiram a geração de um série de ilações e “ïnsigths” sugestivos e ricos para a aprendizagem. Como indicações, vejam-se abaixo os seguintes:
Reconhecimento da vontade legítima e autêntica dos fundadores;
Identificação dos padrões de liderança dos dirigentes e líderes;
Caracterização dos traços fundamentais do perfil do empreendedor ou empreendedores;
Identificação dos valores predominantes da cultura/ideologia da empresa;
Identificação das formas e dos estilos de administração dos processos de sucessão;
Identificação dos padrões de relacionamento da organização com seus “stakeholders”;
Registro da capacidade de adaptação e de flexibilidade da empresa ante as oportunidades que se lhe apareceram, sem fugir ao modelo de Adizes (1990);
Caracterização das políticas da organização e suas interdependências e tantas outras lições, como, por exemplo, estratégias de inovação e de diversificação de produtos dentro da moldura de estratégias concorrenciais.
Mais concretamente, esses projetos permitiram condições de revelar o definitivo espírito empreendedor dos fundadores das organizações privadas investigadas, aceitação e legitimidade sociais de seus produtos, a cultura vencedora e saudável de particularmente uma das organizações estudadas, o espírito visionário de um dos empreendedores analisados e forte reação dos demais acionistas, bem como, no caso de alguns líderes investigados, o traço fortemente carismático/autoritário de seus estilos. Por fim, merece destaque que houve condições de se revelar, ainda, a maneira como as empresas souberam enfrentar o ambiente cambiante e instável das políticas econômicas nacionais.
Com base nesse material, fica bem mais fácil e verossímil fazer referências e citar experiências empresariais. Pisa-se no chão brasileiro e lida-se com atores sociais e empresariais formados dentro da cultura e, em especial, da economia nativa.
No próximo item, orienta-se o olhar para uma visão histórica, de hoje e do futuro, para a proposta de conteúdos de um possível programa de ensino de história de empresas, dentro de um contexto do ambiente econômico, social, político e cultural brasileiro, regional e estadual.
6 – Um olhar sobre o Ontem, o Hoje e o Amanhã das Empresas no Nordeste e em Pernambuco.
É possível conceber-se o programa de uma disciplina que cubra, de forma sistemática, a história administrativa e gerencial das empresas brasileiras? Existiriam conteúdos suficientes para tal escopo? Quais seriam os grandes temas de um programa de ensino/pesquisa de administração que contemplassem tais necessidades? Na verdade, segundo o ponto de vista defendido neste artigo, abundariam assuntos com muita consistência. De certa forma, no entanto, seria algo diversificado, heterogêneo e desigual, porquanto se abrangeria toda a experiência das empresas existentes nos diversos centros econômicos do país, com suas semelhanças, mas, sobretudo, com as diferenças de formação histórica, tamanho e expressão da economia, bem como diferenças de padrões culturais. Certamente, em algum momento no futuro próximo, estudos comparativos nessas áreas ocorrerão, porque as diferenças existem e são muito atraentes como objeto de análise. A proposta que ora se faz se restringe, no entanto, à região nordestina e ao estado de Pernambuco, considerando-se, obviamente, o pano de fundo econômico nacional (11).Tem, ainda, seu alcance delimitado a partir da Republica, vale dizer, desde o início da industrialização no país. Nesse sentido, há uma intenção explícita em não se investigar a fase imperial ou colonial, ou mesmo holandesa, apesar da importância dessas temáticas. A opção valoriza efetivamente as formas de produção instaladas no país, com a revolução industrial. Abaixo, proposta de conteúdos para integrar programa segundo fases da evolução dos negócios – sob o ponto de vista empresarial e econômico – da região e do Estado. Ajunta-se a essas fases um módulo especial dedicado às micros e pequenas empresas.
FASE I – COMEÇO DA INDUSTRIALIZAÇÃO (1890-1930).
O âmbito de cobertura desta fase inicial deverá começar com o estudo das primeiras fábricas de tecidos da região, com destaque especial ao espírito empreendedorístico de homens como Delmiro Gouveia, Carlos Alberto de Menezes e os Lundgrens, entre outros. Na verdade, os historiadores desta fase registram que, na última década do século passado, Pernambuco já contava com oito fábricas de tecidos (Mendonça, 91 e Correia de Andrade, 95). Por outro lado, nesta primeira fase da economia republicana pernambucana, torna-se imprescindível compreender o papel e a importância das usinas de açúcar na economia e nos processos de administração empresarial do Estado, conforme análise de Correia de Andrade (1989) no seu clássico livro História das Usinas de Pernambuco.
Somente à guisa de ilustração, convém registrar que, como já referido, lá pelos anos 10 do século passado, o empresário Carlos Alberto de Menezes adotou políticas de recursos humanos, praticando processos de participação na gestão através de uma singularíssima experiência de Corporação Operária na nascente vila operária de Camaragibe, onde a Companhia Industrial de Pernambuco instalara uma fábrica de tecidos e a ele confiou a direção (12). Da mesma magnitude é a iniciativa de Delmiro Gouveia na sua fábrica de Pedra em Alagoas, quando resolveu fixar, no interior dela, cartazes com exortações que hoje soariam como máximas de um Programa de Qualidade Total do melhor estilo. Segundo Menezes (1991), no seu livro intitulado Delmiro Gouveia – Vida e Obra, “… empolgado pela idéia de crescente aperfeiçoamento (sic, grifos? do articulista) de sua manufatura (ele, Delmiro) mandou afixar em todos os salões da fábrica quadros com os seguintes dizeres, em forma de máximas:
“Quem manufatura nunca está fazendo bem feito demais”;
“Jamais se poderia dizer que o produto é irrepreensível ou livre de defeitos”;
“Todos os dias devem-se cuidar do melhoramento do produto”;
e, finalmente, esta advertência:
“Não seguindo estes conselhos, tudo baqueará”.
O ponto a comentar aqui é que o autor do livro referido e o nosso empresário tenham manifestado – o primeiro, em 1966, ano da publicação da primeira edição do livro, e, sobretudo Delmiro, em 1924 – preocupações com a idéia de crescente aperfeiçoamento de seus processos produtivos, antecipando-se em, pelo menos, três décadas à filosofia de Deming no Japão. Tanto a sociedade como os empresários de hoje – em especial os jovens estudantes – precisam conhecer essas e outras estratégias adotadas por empresários nacionais de tal porte, assim como conhecem, porque estão nos livros traduzidos, o que fez ou deixou de fazer tal ou qual empreendedor norte-americano, europeu ou japonês, mais recentemente.
FASE II – RECIFE : ENTREPOSTO DO NORDESTE (1930-1960).
Este período deverá iniciar-se na década de 30 e se estender até os anos sessenta, quando se inaugurará a fase pós -SUDENE. Nele, o material a ser explorado se concentrará no papel das usinas e dos usineiros em Pernambuco e no Nordeste, na articulação de seus interesses com a classe política, no padrão de sua mentalidade, no protecionismo do governo, estudando-se, ao mesmo tempo, a formação e a consolidação de parte da economia e administração locais no âmbito do comercio – Recife como entreposto regional de grande expressão – em face de sua vocação de cidade prestadora de serviços no campo da cultura, da ciência, das artes e do lazer. Nesse contexto, cabe destacar a necessidade de se investigar a contribuição administrativa e empresarial estrito senso dos atores sociais do mundo empresarial da elite desses dois – comércio e serviços – espaços de atividades produtivas.
FASE III – O NORDESTE DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA SUDENE (1960-1970).
Trata-se de um dos períodos mais ricos a ser narrado com as lentes de um profissional de administração. Com certeza, os resultados lançarão luzes bem atuais sobre o estilo brasileiro, nordestino e pernambucano, em particular, de administrar. Para efeito de delimitação, deve-se fixar o início a partir dos anos setenta, quando as primeiras empresas e iniciativas governamentais começam a surgir em decorrência dos estímulos e apoios da SUDENE, até fins dos anos oitenta, época em que os efeitos da globalização e da terceira revolução tecnológica começam a aparecer. Na verdade, ainda está para se contar a extensão e a profundidade dos benefícios que o citado órgão de desenvolvimento trouxe para a região em termos de formação, mobilização e disseminação de quadros profissionais para atuarem nas administrações públicas dos três níveis de governo e, sobretudo, para administrarem as indústrias e projetos rurais instalados em Pernambuco e no Nordeste em geral.Trata-se, sem dúvida, de um capítulo à parte que merece ainda ser escrito. Seria algo como a contribuição da SUDENE, em seus projetos de desenvolvimento, para a instalação de uma nova cultura empresarial e administrativa por meio da criação, em larga escala, de novas oportunidades de emprego para profissões inéditas na região, como administradores, gerentes, psicólogos organizacionais, contadores, nutricionistas e assistentes sociais de empresa. A respeito desta temática, os sociólogos desenvolveram uma teoria das chamadas “ilhas de excelência”, dentre as quais a SUDENE seria um exemplo modelar de difusão de modernidade (13). Diz Dalland (1969): “a noção de ilhas e núcleos de planejamento em torno dos quais podem ser criadas inovações está se tornando cada vez mais freqüente na literatura de planejamento para o desenvolvimento” e, mais adiante, nomeia, com clareza, a SUDENE ao lado do BNDES e outros órgãos de governo. Além do mais, muitos que no início trabalharam naquele órgão resolveram, depois de algum tempo, instalar seus próprios negócios, movidos basicamente pelo sopro modernizador e inovador que a SUDENE criara no Nordeste.
Um veio de investigação muito interessante nesse aspeto seria uma análise a respeito dos órgãos e das agências oficiais de fomento instalados na região (SUDENE, BNB, SEBRAE e BNDES entre outros), de modo a identificar qual a natureza, a inspiração e a real capacidade deles de transmitirem posturas agressivas e empreendedoras nos negócios para seus tomadores de empréstimos. Em outras palavras, em que medida essas agências, ditas de fomento, de fato fomentaram o espírito de autodesenvolvimento nas pessoas que a elas se dirigiram? Teriam elas fomentado uma dependência ou, ao invés, um impulso para a independência?
FASE IV – O RECIFE: VOCAÇÃO DE MASCATE (14) (1970-2000).
Simultaneamente ao influxo de conhecimento que a SUDENE introduziu, registre-se o impulso que o Recife e sua região metropolitana receberam, em termos de desenvolvimento, de seu comércio, agora mais complexo e sofisticado em Shopping Centers, do turismo e também do parque médico considerado por alguns como o 3º pólo médico do país, tamanha sua expressão em qualidade dos serviços e equipamentos e instalações.
Seja no novo comércio, seja na área do turismo, seja no campo da medicina, precisa-se pesquisar, investigar, compreender e revelar à sociedade os casos de sucesso dessas arrojadas iniciativas e identificar e tornar pública e universal a teoria administrativa e gerencial que esteve e está por detrás deles. Quanto aos médicos, a qualificação profissional indiscutivelmente se ancora nas faculdades de medicina existentes no Estado. O que estimula saber, no entanto, é como eles aprenderam também atuar como empreendedores e gestores de negócios clínicos e hospitalares. Seriam os médicos administradores natos ou se socorreram de assessores e de consultores organizacionais para implantarem e dirigirem seus negócios? Seriam todos os comerciantes grandes administradores ou eles se utilizaram, da mesma forma, de quadros de gerentes e de profissionais? E, então, como analisar essas desafiantes questões? Que ideologia empresarial, administrativa e gerencial tais empreendedores do comércio, do turismo e dos serviços médicos introduziram na região, sozinhos ou em conjunto?(15) Dentro dessa nova identidade de centro prestador de serviços, inclua-se ainda o chamado Pólo de Informática da região. É necessário, por conseguinte, estudar essas questões, fundamentalmente porque os mencionados setores estão dando certo no contexto ambiental local, logo têm condições de serem copiados e replicados em outras áreas empresariais, na medida do possível.
MÓDULO V – PERNAMBUCO, O FUTURO EM CONSTRUÇÃO.
Esta fase – do fim dos anos oitenta até os dias de hoje – deve ser explorada, discutida e narrada, dentro de uma linguagem de administração, quanto ao atual modelo administrativo e sua sustentação em estilos e processos nas novas e recentes teorias estrangeiras de administração ou se a ideologia das empresas locais preservam valores autênticos nativos ou se os combinam, isto é, em que medida esse “mixing” tem sido feito. As respostas a tais indagações com certeza poderão, em primeiro lugar, facilitar, em grande medida, aquelas empresas que estão sendo ultrapassadas na expansão crescente da globalização e, em segundo, elas ajudarão a muitos professores e consultores que estão formando quadros novos para a região. Daí a imperiosa necessidade de se pesquisar esta temática. Neste momento, a articulação a se perseguir não deverá somente se apoiar na análise dos casos e padrões históricos empresariais, mas também ser focada na cooperação para a formação de quadros de empreendedores, administradores e gerentes que atuarão nos chamados complexos de desenvolvimento econômicos do Estado, a saber: desenvolvimento do turismo; expansão do pólo de agricultura irrigada; desenvolvimento sustentável da Zona da Mata ao lado de outras atividades produtivas emergentes, como é o caso do pólo gesseiro do Araripe, pólo metal-mecânico e do pólo cerâmico entre outros, conforme indicado no documento PERNAMBUCO 2010-ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (1997).
MÓDULO ESPECIAL – O UNIVERSO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS.
Neste módulo, o foco não deverá ser temporal; antes é uma área de interesse que existe no Brasil, há muito tempo, mas nunca mereceu atenção adequada. Trata-se do estudo da micro e pequena empresa nacional. Em Pernambuco, por exemplo, elas respondem por mais de 95% (noventa e cinco por cento) das empresas existentes no Estado. Lá os alunos vão empregar-se, os consultores prestam muito dos seus serviços. Deve-se, portanto, voltar a aprendizagem (teoria /prática) para esses espaços organizacionais. É importante se entender melhor sua dinâmica, suas estratégias, seus processos produtivos e estilos de gerência, considerando as reais condicionantes ambientais tanto de clientela, de concorrentes e de fornecedores e, obviamente, de nível de presença e intervenção do governo. Não se desconhece o papel do SEBRAE em tal processo, porém o desafio da sobrevivência e perenização das mencionadas empresas não necessariamente depende desse único apoio governamental. A academia não pode deixar de se preocupar com elas, até porque há muitas possibilidades para as empresas pequenas no futuro que se avizinha.
A história de empresas nacionais merece ter assento na academia? As bases dos argumentos elencados são consistentes e convincentes? No item abaixo, um panorama dos questionamentos formulados.
7 – Questionamentos Exploratórios e Conclusões Preliminares
Muitas dúvidas emergem – na verdade me assaltam, desculpem a primeira pessoa do singular – quando se aborda esse tema. Não se postula, aqui, todavia, posição fechada. No momento, a intenção é ouvir o posicionamento de outros profissionais para se obter para a área validação ou não e, posteriormente, fazer nova síntese. Observem-se abaixo as dúvidas.
I – O desconforto de, ao se ministrar aula, referir-se a experiências exitosas de administração de casos estrangeiros. Será um sentimento compartilhado por outros professores e consultores?
II – O primeiro suposto básico, em contraposição ao desconforto, é que se pode encontrar, nas empresas brasileiras, casos que merecem citação e, com certeza, ilustrariam melhor o sucesso das empresas daqui. É uma afirmativa falsa ou verdadeira?
III – O segundo suposto é que não necessariamente teríamos de mecânica e automaticamente, assumir que os caminhos de sucesso das empresas do primeiro mundo serão os nossos. Há algo como uma ecologia empresarial lembrando que os remédios aplicados lá fora nem sempre dão certo aqui. Somente para exemplificar, a crescente expansão, vitalidade e dinamismo organizacional das ONGS – Organizações Não-governamentais nos E.U.A. -, conforme revelado com entusiasmo por Drucker (1992), não se repetem nem com a mesma intensidade, nem, muito menos, com os mesmos processos e práticas. Os casos referidos pelo autor desta comunicação mostram traços culturais fortes brasileiros ora de carisma, ora de isolamento dos dirigentes das ONGS nacionais, diametralmente opostos aos identificados por Drucker na sociedade americana e, nem por isso, elas deixaram de prosperar ou de dar certo. Revelam, por outro lado, um interessante aspecto histórico, indicando que, antes do governo de Getúlio, a elite brasileira se sentia mais responsável pela sorte dos desafortunados (16). No plano da assimilação de idéias estrangeiras de forma apressada, idêntica colocação já foi feita sobre a “febre” de qualidade total que assolou no país, no fim da década passada (17). É algo também percebido por outros profissionais?
IV – A metáfora da arte e seu valor universal, cada vez maior como resultado de uma imersão profunda no singular de um povo ou de uma experiência, cabe nesse contexto? É procedente? Por quê?
V – A defesa de uma história das empresas com os pés no chão brasileiro, central neste ensaio, não está formulada com a intenção de referendar o atual “estado d’arte” dos padrões de gestão empresarial nacional, que são, em grande medida, pobres e, no âmbito cultural, plenos de práticas e de processos de base autoritária, como destacou, com propriedade, Vasconcelos (1995) ao revelar a gênese autoritária da gerência brasileira a partir do coronelismo da nossa formação econômica e política. Longe deste articulista a defesa desse “status quo”, em especial nas áreas de recursos humanos e empreendedorismo onde atua. Por momentos, chega mesmo a se perguntar: será que a nossa história de empresas nacionais é tão fortemente marcada por protecionismo de governo, sonegação de impostos, práticas gerenciais autoritárias coronelistas, falta de postura ética e corrução desregrada que nos envergonhariam até de narrá-las como exemplo?
VI – E o resto do mundo tem sido diferente ou a história publicada de muitas empresas não deixa transparecer tais aspectos indesejáveis, apesar de sabermos de casos e mais casos de envolvimento de empresa até com queda de governos (Allende x ITT) e o mais recente caso de monopolização de produtos de informática denunciado pela promotoria americana contra a Microsoft e o paradigmático empreendedor Bill Gates?
VII – Considerando-se as diferenças de tamanho, de expressão de dinamismo e de integração internacional da economia e das empresas das diversas regiões do Brasil, cabe a pergunta: temos uma história de empresas uniforme e linear? Na hipótese de um resposta negativa (vide nota no 11 ), como abordar a matéria?
VIII – Se, por hipótese, assumir-se que a internacionalização vai penetrar em todos os recantos da nossa vida empresarial e os traços predominantes da nossa cultura (17) serão inexoravelmente desprezados e que tais estudos serão, no máximo, de serventia antropológica ou de etnografia comparada para revelar como éramos primitivos e selvagens antes dos benefícios da globalização, o que fazer? Valeria a pena defender sua pertinência?
IX – Sabe-se, ainda, que se fazem muitos estudos de casos de empresas brasileiras, menos com o propósito de aprendizagem organizacional e de devolução social do que com a indisfarçável intenção de “venda” de imagem institucional. Isso não resiste a qualquer crítica mais apurada. Se a história de empresa tem sido algo objeto de “manipulação” de imagem, valeria a pena tratar desse assunto?
X – Por outro lado, ao abrir, neste texto, a abordagem adotada, acredita-se que se tenham agregado à simples produção de uma peça mercadológica novas dimensões e recortes de investigação para serem objetos de um trabalho da história de empresa, tais como a questão da análise estratégica, do tópico da cultura e do perfil empreendedorístico dos fundadores como os mais importantes. Em outras palavras, colocam-se novas relações ,”links” em inglês, e novas fronteiras conceituais, visando-se a extrair da história lições de aprendizagem organizacional para toda a comunidade de profissionais da área. Seriam essas contribuições algo substantivo capaz de agregar conteúdos novos aos estudos de história de organizações no país?
XI – Malgrado muito dos óbices levantados, uma serventia de grande aplicação desses estudos poderia ser defendida se se considerar que os programas de empreendedorismo hoje em implantação no país precisam de tais casos para servir de paradigma e inspiração a jovens empreendedores. Em outras palavras, a psicologia, a rede de relações, em inglês “networking”, a aprendizagem com sua equipe, a aprendizagem em termos de estratégias empresariais e outros aspectos da vida e da vivência empresariais seriam elementos fundamentais para identificação de modelos de empreendedores, visando ao esforço da disseminação da cultura empreendedorística. As pesquisas internacionais apontam para o fato de que todo empreendedor se inspira em algum modelo – pai, parente ou alguém influente. Logo, se o país dispõe de exemplos paradigmáticos, por que não os utilizar?(19)
XII – Será que o capital intelectual de nossas empresas, aqui compreendendo necessariamente o capital humano – o conhecimento, a experiência, o poder de inovações e a habilidade dos empregados além dos valores e da cultura de uma empresa -, no sentido defendido por Edvinsson e Malone (1999), não tem valor intangível significativo como o de outras organizações internacionais?
Para finalizar, reitera-se a defesa de um novo “locus” de trabalho para a academia focado nos estudos de história de empresas. A metodologia sugerida neste ensaio pode emprestar a tais estudos novas dimensões além de simples peça mercadológica. Apesar da globalização, o país continua a precisar de casos de sucesso contextualizados, historicamente surgidos no nosso ambiente, observando-se, inclusive, as diversidades econômicas e culturais; para isso, convém estudar-se a fundo nossos valores, hábitos e crenças; assim, poderemos mexer em componentes e dimensões indesejáveis dessa mesma cultura. A simples negação de sua existência tem, com freqüência, levado ao malogro, conforme adverte Vasconcellos (1995) no texto já mencionado: “Nesse sentido, qualquer esforço para criar uma cultura organizacional mais ousada (…) depende de compreender e trabalhar os traços hoje existentes”. Por todas as razões, acrescente-se que, antes de, na ânsia da internacionalização, jogar-se fora, pelo ralo da água suja, o legado da nossa história empresarial, vale a pena resgatá-la, até porque muito do capital intelectual – da identidade empresarial brasileira – diga-se de passagem, cultural também – está encerrado aí, na história das empresas nacionais.
NOTAS
1 – Segundo Hosfstede, as teorias americanas de motivação – McClelland, Maslow, Herzberg e Vroom -, apesar de extremamente difundidas, seriam antes descrições dum sistema de valor da classe média americana do que uma descrição universal da motivação humana. In “Motivation, leadership and structure: do americam theories apply abroad? Org. Dynamics, Summer 1980, apud Mendonça (1987).
2 – Os “stakeholders” em uma organização são os indivíduos ou grupos dependentes da empresa para a realização de seus objetivos e de quem a companhia depende para sua existência. Nesse sentido, seriam “stakeholders” de uma empresa os empregados, os fornecedores, os clientes, a sociedade, o governo e, obviamente, os proprietários, mas não exclusivamente. Vale dizer, “stakehodres” é muito mais do que “stokeholders”, o conhecido acionista. In, Rhenmam, Eric. Industrial democracy and industrial management Londom Tavistock Institute, 1968, apud Mendonça (1987).
3 – Se alguém, hoje (abril 2001), procurar, na internet, por história de empresa ou história de empreendedores em português, só encontrará quatro “homepages”, das quais uma única tem configuração acadêmica de administração, vez que é mantida por um professor universitário carioca da área. Já se, por outro lado, alguém investigar o assunto em inglês, sob o título de “entrepreneurial history”, encontrará mais de três dezenas de centros americanos e europeus voltados ao estudo do tema.
4 – Ver o livro Feito para durar -Práticas Bem-sucedidas de Empresas Visionárias – Rio: Rocco, 1995.
5 – “Dos 300 maiores grupos privados nacionais, 287 são controlados por uma ou mais famílias. Tais empresas fundadas nas décadas de 50 e 60 estão exatamente passando pela transição do poder de propriedade”.Bernhoeft (1992) Quanto à idéia de devolução social, a intenção é a de garantir responsabilidade social às ações empresariais.
6 – Ver a recentíssima “História do Brasil” (1997) editada pela Rede Zero Hora e a Folha de São Paulo, coordenada pelo jornalista e historiador Eduardo Bueno. São Paulo: 1997.
7 – O Professor Sílvio Luiz Jonham (1996) tem uma tese interessantíssima sobre o que ele chamou de “Idéias -Semler”.
8 – Ver Barros, Betânia e Prates, Marco Aurélio (1996); Brasil, Haroldo, Diegues, Sônia e Blanc Georges ( 1995) .
16 – Azevedo, Ferdinand – Ação Católica no Brasil: corporativismo e sindicalismo, São Paulo: Edições Loyola, 1986.
9 – O primeiro texto publicado dentro desta moldura de Projeto de Identidade e Memória foi sobre a empresa de transportes coletivos do município do Recife e intitulou-se “Transportes Coletivos no Recife: uma viagem no ônibus da CTU”; o segundo projeto foi parte integrante do Livro de Collier sobre o empreendedor Carlos Alberto de Menezes; o terceiro, um livro editado pela Gráfica Recife, intitulado “Petribu: Terra e Homem”; o quarto, produzido pelas Edições Bagaço do Recife, comemorativo dos 60 anos de existência da Sociedade de Pediatria do Estado de Pernambuco, intitulado “Sociedade de Pediatria de Pernambuco: Tradição, Compromisso e Cultura”, publicado em 1999; o último, sobre o Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco, intitulado “IMIP -Identidade, Missão e Trajetória”, lançado em novembro do ano passado, também com o selo das Edições Bagaço.
10 – A expressão “ideologia” está sendo usada aqui no sentido de Max Pagés, nos seguintes termos: “A ideologia predominante num grupo social ou em uma instituição constitui de fato uma ‘bricologe’ de elementos disparatados resultante de influências variadas, heranças de períodos diferentes. Para compreender tal fenômeno é necessário não ter a visão ingênua de ideologia que corresponde somente aos interesses da classe dominante”. Vide Pagés et alli (1987).
11 – A história da administração das empresas nacionais não pode deixar de refletir as diversidades e desigualdades do país. Com certeza, se a experiência administrativa gerencial acompanha o dinamismo econômico de uma dada sociedade, é de se supor que no Brasil as nossas trajetórias foram bastante diversificadas, haja vista o caso do Nordeste, o caso do Sul, das Minas Gerais, do Norte e a mais recente e dinâmica situação do Centro-sul. De alguma maneira, o quadro que parece existir no país é muito parecido com aquele retratado por Brookfield, um historiador britânico da economia que, após analisar a economia internacional, dá uma espécie de “colher de chá”, a autores como Celso Furtado, Sunkel, Prebrish e outros latino – americanos, para que falem e dêem suas interpretações sobre a evolução da economia do mundo capitalista. A esse capítulo, Brookfield deu título de – sic – ” Voices from the Periphery”, in( Brookfield 1977). Em outras palavras, a história das empresas e, por via de conseqüência, da administração brasileira tem indiscutivelmente um peso muito grande derivado da experiência das organizações paulistas (o Estado responde por mais de 36% do PIB nacional), mas os demais estados, caso de Pernambuco (2,70% do mesmo PIB), têm também uma história para contar e narrar. Na verdade, a diferença São Paulo X E.U.A. e Europa Ocidental são “mutatis mutandi” a mesma São Paulo X resto do país. Se não vale a pena discutir diferenças regionais, não valeria a pena discutir também singularidade nacional.
12 – Vide (Azevedo 1986) e (Collier 1996).
13 – (Dalland, R 1969), (Hirschmam 1963) e (Cardoso, F.H. 1964).
14 – Em 1710, houve, em Pernambuco, uma guerra entre as cidades de Olinda e Recife, após a elevação desta última a condição de vila. Foi denominada de Guerra dos Mascates, porque os portugueses de então assim chamavam depreciativamente os comerciantes brasileiros da cidade do Recife.
15 – Sobre questão da ideologia de profissionais, vide texto de Covre, 1981 e Bresser Pereira, L.C. 1981.
16 – Este assunto é objeto de análise na Apresentação do livro do autor sobre a Sociedade de Pediatria de Pernambuco, já referido na nota nove, sob o título “Por que e para que nascem as Organizações não governamentais”.
17 – “Pesquisas realizadas no primeiro mundo revelaram um índice elevadíssimo (cerca de 70%) de insucessos de implementação de programas de qualidade total”, in( Diniz Costa ,2000).
18 – Ver o trabalho de Barros e Prates já citado sobre o caso do Método Engenharia de São Paulo, que promoveu uma mudança na empresa a partir de uma abordagem positiva dos valores culturais brasileiros.
19 – O Professor Fernando Dolabela revela esse posicionamento e defende o emprego de entrevistas com tal propósito em seus livros O Segredo de Luíza (São Paulo: Cultura. 1999) e Oficina do Empreendedor (São Paulo: Edit. Cultura, 2000). Posição idêntica é defendida por Reynaldo Marcondes e Cyro Bernades no livro intitulado Criando Empresas para o Sucesso, São Paulo: Edit Atlas, 1997.
BIBLIOGRAFIA
-ANDRADE, Manoel Correia de -Histórias das Usinas de Pernambuco.Recife: Massangana, 1989. -__________ Os caminhos da Modernidade. In: Pernambuco Imortal.Recife: Jornal do Commercio, 1995.
-ADIZES, I -Os Ciclos de Vida das Organizações – São Paulo: Pioneira. 1990
-AQUINO, Cleber – História Empresarial Vivida – volume I São Paulo: Gazeta Mercantil, 1987.
-AZEVEDO, Ferdinand.- Ação Católica no Brasil: Corporativismo e Sindicalismo.São Paulo: Loyola, 1986.
-BARROS, B. e PRATES, M. A. – O Estilo Brasileiro de Administração. São Paulo: Atlas, 1996.
-BERNOEFT, R – Palmo a Palmo.Diário de Pernambuco, Recife: 09 Ago. 1992. -BRASIL, H, DIEGUES, S e BLANC, G – Raízes do Sucesso Empresarial: A experiência de três empresas bem sucedidas: Belgo-mineira, Metal Leve e Weg, São Paulo: Atlas, 1995.
-BETHLEM, A – Gerência à Brasileira- São Paulo: McGraw-Hill, 1989.
-BROOKFIELD, H – Interdependent Development, London: Methuen & Co Ltd. 1977. CALDEIRA, J- MAUÁ – Um empresário do Império – São Paulo: Companhia da Letras, 1995.
-CARDOSO, F.H. Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico, São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1964.
-COBRA, M. -Sucessos em Marketing- Casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 1991.
-COLLIER, E – Carlos Alberto de Menezes: Pioneirismo sindical e cristianismo – Recife: Digital Graph, 1996.
-COSTA, T. DINIZ – Qual o Futuro para a Área de Recursos Humanos nas Empresas? São Paulo: Makron Books, 2000.
-CONDEPE – PERNAMBUCO 2010- Estratégia de desenvolvimento sustentável; Recife: Seplan-Pe, 1996. -COVRE, Maria de Lourdes. A Formação e ideologia do administrador de empresa.Petrópolis: Vozes, 1981.
-DALLAND, R. T. – Estratégia e Estilo do Planejamento Brasileiro -Rio: Edit Lidador, 1969.
-DOLABELA,F, – O Segredo de Luíza. São Paulo: Cultura, 1999. -____________ – Oficina do Empreendedor.São Paulo: Cultura, 2000.
-DRUCKER, P. – Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século – São Paulo: Pioneira, 1992.
-EDVINSSON, L e MALLONE, M – Capital Intelectual. São Paulo: Makron Books, 1999.
-JOHANM, S. L. – O modelo Brasileiro de Gestão Organizacional: As idéias-Semler, São Leopoldo: Edit. Unisinos 1996.
-HISTORIA DO BRASIL -São Paulo: de Zero Hora; Folha de São Paulo, São Paulo: 1997.
-HIRSCHMAM A. – Journey towards Progress: Studies of economic policy-making in Latin America. Nova York: Twenty-Century Fund, 1963.
-HOFSTED, G- Motivation, Leadership and Structure: Do American theories apply abroad? Org. Dynamics, summer 1980.
- MARCONDES,R e BERNARDES, C – Criando Empresas para o Sucesso, São Paulo: Atlas, 1997.
-MENDONÇA.João Hélio – Alguns traços da história social da industria têxtil em Pernambuco. Anais do V Encontro de Ciências Sociais do Nordeste.Recife: FUNDAJ, 1991.
- MENDONÇA, Luís Carvalheira – Participação na Organização.São Paulo Edit. Atlas 1987.
-__________________________ – Petribu: Terra e homem.Recife: Gráfica Recife, 1997.
-____________________________- Sociedade de Pediatria de Pernambuco: História, Cultura e Compromissos.Recife: Bagaço. 1999.
-MENDONÇA, Luis Carvalheira de e MENDONÇA, João Helio- IMIP – Identidade, Missão e Trajetória.Recife: Bagaço. 2000.
-MENDONÇA, Luís C. e PEREIRA A. – Transportes Coletivos no Recife: Uma viagem do ônibus da Ctu.Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1987.
-MENEZES, Hildebrando – Delmiro Gouveia: Vida e morte. Recife: Cepe, 1991.
-NOGUEIRA, Paulo – Autogestão – Participação dos trabalhadores na empresa. Rio de Janeiro: José Olímpio. 1969.
-ODEBRECHT, Norberto – Sobreviver, crescer e perpetuar: Tecnologia empresarial Odebrecht, 2 ed., Salvador, 1998.
-PAGÉS, M et alli. – O poder das organizações: a dominação das multinacionais sobre os indivíduos. São Paulo: Atlas, 1987.
-PENSE GRANDE – Coletânea de biografias e histórias de grandes empresários e respectivas empresas.São Paulo: Prêmio Editorial, 1995. -PEREIRA, L.C. BRESSER -A sociedade estatal e a tecnoburocracia. São Paulo: Brasiliense, 1981.
-PESSOA, Fernando – Poemas de Alberto Caeiro, In: Obras Completas. Lisboa: Ática, 1970.
-RILKE, Rainer Maria – Cartas a um jovem poeta e A canção de amor e de morte do porta estandarte Cristóvão Rilke .1 ed,Porto Alegre.1970.
-RODRIGUES, S e DUARTE, R. – Diversidade cultural no ambiente dos negócios internacionais.In Barbosa, L. e Vieira, M (Org).- Administração Contemporânea: perspectivas estratégicas.São Paulo: Atlas, 1999.
-SEMLER, R – Virando a Própria Mesa. 7 ed. São Paulo: Best-seller1998.
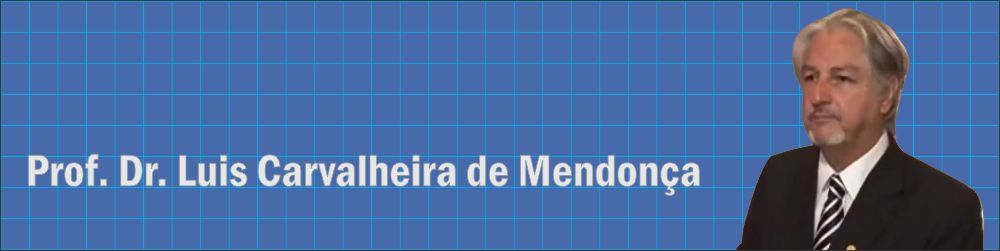
Comentários